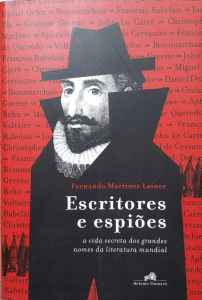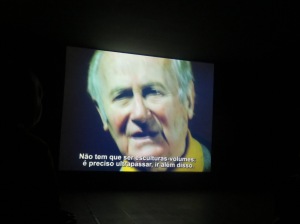Em 24 de março, participei de um ciclo de debates sobre direitos humanos no Sesc. A programação está aqui: http://migre.me/pdQpx.
Escrevi um breve texto para guiar minha apresentação e compartilho aqui para quem se interessar na síntese que fiz.
Pensei em diversas maneiras de começar a conversa sobre as narrativas na prisão.
Cheguei à conclusão de que seria honesto, de minha parte, contar como e quais narrativas me influenciaram e o que despertaram em mim desde que comecei a gostar de ler. Meu ponto de vista é o de leitora que se mobilizou, desde sempre, por narrativas sobre o sofrimento causado pela violência do estado – física ou psicológica.
A leitura possibilita viver a vida do outro e as narrativas do cárcere que tenho lido desde adolescente me fazem sofrer junto. Esse sofrimento contagia e mobiliza.
Então eu me lembro de ter lido a literatura decorrente do sofrimento nos campos de concentração e em diversos tipos de prisão e, em minha memória, ficaram “A 25ª hora”, “O que é isso companheiro?”, “O queijo e os vermes”, “Recordações da Casa dos Mortos”, “Feliz ano velho”, “Reminiscências do sol quadrado”, “Memórias do cárcere”, “É isto um homem?”. Na poesia, fico com “Romanceiro da Inconfidência”, de Cecília Meireles.
Depois me lembro de “O processo”, de Kafka. Aí estou em outro contexto, o da violência psicológica, e não há violência psicológica maior do que a ameaça de um processo ou de uma pena sem que se saiba a razão.
Eu ousaria um pouco e poderia incluir, inclusive, na lista “O diário de Anne Frank”, porque ela viveu em um cárcere, de certa forma, e seu diário é, até hoje, poderoso, no sentido de que inspira desejo de liberdade.
Se eu pudesse concluir que esses relatos têm uma função, diria que é a de inspirar horror à violência do estado e vontade de liberdade. Foi o que aconteceu comigo.
Eu estou colocando juntos livros que talvez não precisassem estar juntos. Estou unindo relatos a partir de minhas próprias impressões e não de teorias literárias, até por que não tenho autoridade para isso. Minha autoridade, aqui, é a de leitora e escritora e, quando falo em escrita, na minha, penso na jurídica e na ficcional.
Pensei, em primeiro lugar, em um autor brasileiro para iniciar essa minha narrativa e esse autor é Graciliano Ramos porque ele escreveu uma obra muito extensa que é “Memórias do cárcere”, que hoje é, além de romance, importante documento. Lendo” Memórias do cárcere”, e confrontando o romance com outras leituras, percebo que há pontos em comum e o primeiro deles é a não preocupação com a cronologia e exatidão. Nenhuma delas se pretende reportagem. Elas se apresentam a partir de reminiscências, pontos de luz sobre fatos. A exceção, talvez, seja “O que é isso, companheiro?”, mas, mesmo tendo sido escrito por jornalista, o relato é bastante subjetivo e tem estilo próprio e inspirador.
“Memórias do cárcere” foi publicado em 1953, depois da morte de Graciliano Ramos. Ele não escreveu o livro na prisão. Na prisão, escreveu notas, extraviadas, perdidas. Isso ele diz logo no início do livro.
Depois de Graciliano Ramos, penso em Primo Levi e “É isto um homem?” Curiosa sobre a escrita como libertação, encontrei um livro bastante interessante de Lucíola Freitas de Macedo: “Primo Levi, a escrita do trauma” (Rio de Janeiro, Subversos, 2014). Ela diz:
“A testemunha reconstruirá a verdade com base na sua experiência e a partir de parâmetros absolutamente distintos do historiador. Na reconstrução da verdade levada a cabo no testemunho, as recordações tendem ao apagamento. Elas se modificam e incorporam elementos estranhos, o que remete ao seu caráter lacunar, ao não deixarem-se capturar inteiramente pela representação. Poucas recordações resistem. Quais? Indaga-se Levi, já no primeiro capítulo, “A memória da ofensa”. O que resistiria à lenta degradação, ao ofuscamento dos contornos, à repressão e ao recalque? O que seria aquilo que permanece entre a memória e o esquecimento, e que somente é dado a ler nas entrelinhas do texto?” (p. 86).
E ela tem outras falas que iluminam os textos todos, entre elas:
“A reminiscência é distinta da rememoração. A rememoração está ligada à constituição de cadeias de saber, na medida em que o inconsciente supõe um saber e por isso pode ser rememorado e interpretado. A reminiscência, por sua vez, é evanescente, fugidia e parece localizar-se melhor no âmbito do que resiste ao sentido e às cadeias de saber, não se prestando à rememoração. Irrompe como um flash, para desaparecer no mesmo instante” (p. 260).
É exatamente nesse contexto que está o livro de Mário Lago, “Reminiscências do sol quadrado” (Cosac& Naify, 2001). Mário Lago foi preso logo em 64, depois do golpe. Ele começa assim:
“Xamego-síntese para quem tiver preguiça de ler o resto, que é detalhe só
Me invadiram a casa toda
(e eram mais de dez)
me viraram tudo nela
(e eram mais de dez)
me cercaram o edifício
(e eram mais de dez)
me impediram o elevador
(e eram mais de dez)
me esvaziaram a calçada
(e eram mais de dez)
me pensando em dar tiro.
Eram mais de dez, eram mais de dez,
eram mais de dez. De dez.”
Mário Lago prossegue no poema com um ritmo que dá vontade de escrever, de ler mais. É tão marcada a poesia dele. E depois, ele começa o livro em prosa: “Foi na noite de 2 de abril de 64 que me invadiram a casa, doze metralhadoras aumentando o vulto dos homens que participaram da operação, bombas de gás lacrimogêneo sacolajendo na cintura como balangandãs ou contas de rosário, já que tudo se agigantara à entrada de tanta gente” (p. 11).
Ele transformou a experiência de horror que é ser preso em um poema que gruda na memória.
Flávio Tavares escreveu um livro sobre o período em que ficou preso, que hoje é clássico, “Memórias do esquecimento” (Globo, 1999). Ele começa o livro com uma citação de Tristão de Athayde, ou Alceu Amoroso Lima, “O passado não é aquilo que passa, é aquilo que fica do que passou”. O relato dele é bem forte. Mas termina com um anexo, “Poemas do cárcere” (p. 273/276). Vou escrever só a primeira estrofe:
“Hoje sou o que penso
que teria sido
se houvesse vivido o que pensei ser,
não o que fui.
Hoje não estou preso
nem derrotado, nem sozinho.
Na minha parede não há grades
e não há paredes no meu mundo.
Hoje sou o que penso ser,
não o que sou”.
Em comum em todas essas narrativas estão a poesia e a maneira difusa e fragmentária de narrar.
Volto agora a Graciliano Ramos sem preocupação cronológica entre autores e tipos de prisão ou ditadura, mas procurando, apenas, o encadeamento do raciocínio. Ele escreveu muito na prisão. Mas as notas que fez, como as chamava todo o tempo, foram perdidas. Ele mesmo diz, diversas vezes, que as notas que fez foram extraviadas. Escreveu o livro quase dez anos depois. E essa distância fez de seu livro mais um romance que um relato objetivo ou documento.
Por que a expressão artística está tão perto das narrativas no cárcere? Os autores não são historiadores, não escrevem biografias e nem mesmo autobiografias. Seria arrogância demais eu me perguntar se os autores escrevem para se libertar do sofrimento, cada escritor tem seu motivo pessoal para escrever que não precisa ser revelado. A mobilização que a escrita causa, o impulso de ação, é efeito e não deliberação do autor. Embora possa ser um objetivo, mas o escritor não precisa se explicar, nunca.
Imagino que se o autor não utilizar, na escrita, a forma literária, não consegue escrever. Acredito que as narrativas no cárcere, sobre o cárcere, são evidentemente humanistas e, sendo humanistas, são expressões subjetivas e, por isso, literárias e artísticas. No caso da escrita, forma-se literatura. E é por isso que humor e ironia estão em muitas narrativas (Há um livro bacana sobre isso: “Humor é coisa séria”, de Abrão Slavutzky, Arquipélago editorial, Porto Alegre, 2014).
É difícil contar a violência crua. Quando ela é contada, o leitor talvez não assimile: é muito cruel. O humor provoca o deslocamento, transforma aquele que sofreu em terceiro, narrador, aquele que, distante, pode olhar para si mesmo como o outro. É claro que nem sempre é assim. Mas, muitas vezes, é. Charles Chaplin fez isso muito bem, transformou miséria em comédia e, na comédia, levou os expectadores a pensarem na miséria.
Mas não era aqui que eu queria chegar. Queria concluir que a escrita na prisão reproduz pensamentos de todos os que estão presos e não tiveram voz. Quando um escritor preso fala, e esse discurso atravessa as grades – como aconteceu com Jocenir em “Diário de um detento”, e com o próprio Graciliano Ramos em “Memórias do cárcere” -, a voz dele é a voz de todos que estiveram lá. É uma escrita que traz várias escritas. Experiências e histórias do coletivo são contadas, é uma escrita poderosa e multiplicadora e, por isso, tem uma missão, ainda que não intencional: fomentar desejo de liberdade.
O filme que Nelson Pereira dos Santos fez a partir de “Memórias do cárcere”, de Graciliano Ramos, com Carlos Vereza como ator, tem várias cenas que mostram como os companheiros de prisão ajudaram Graciliano a escrever, ou dando papel, ou escondendo textos, ou querendo aparecer na história. Quando ele saiu, contaria a história de todos e não só dele. O livro foi publicado muito tempo depois, a partir de reminiscências. A memória que fica.
Foi inevitável lembrar de uma estrofe de um poema de Drummond, Resíduo:
“E de tudo fica um pouco
Oh abre os vidros de loção
e abafa
o insuportável mau cheiro da memória.”
(Resíduo, em “A rosa do povo”)