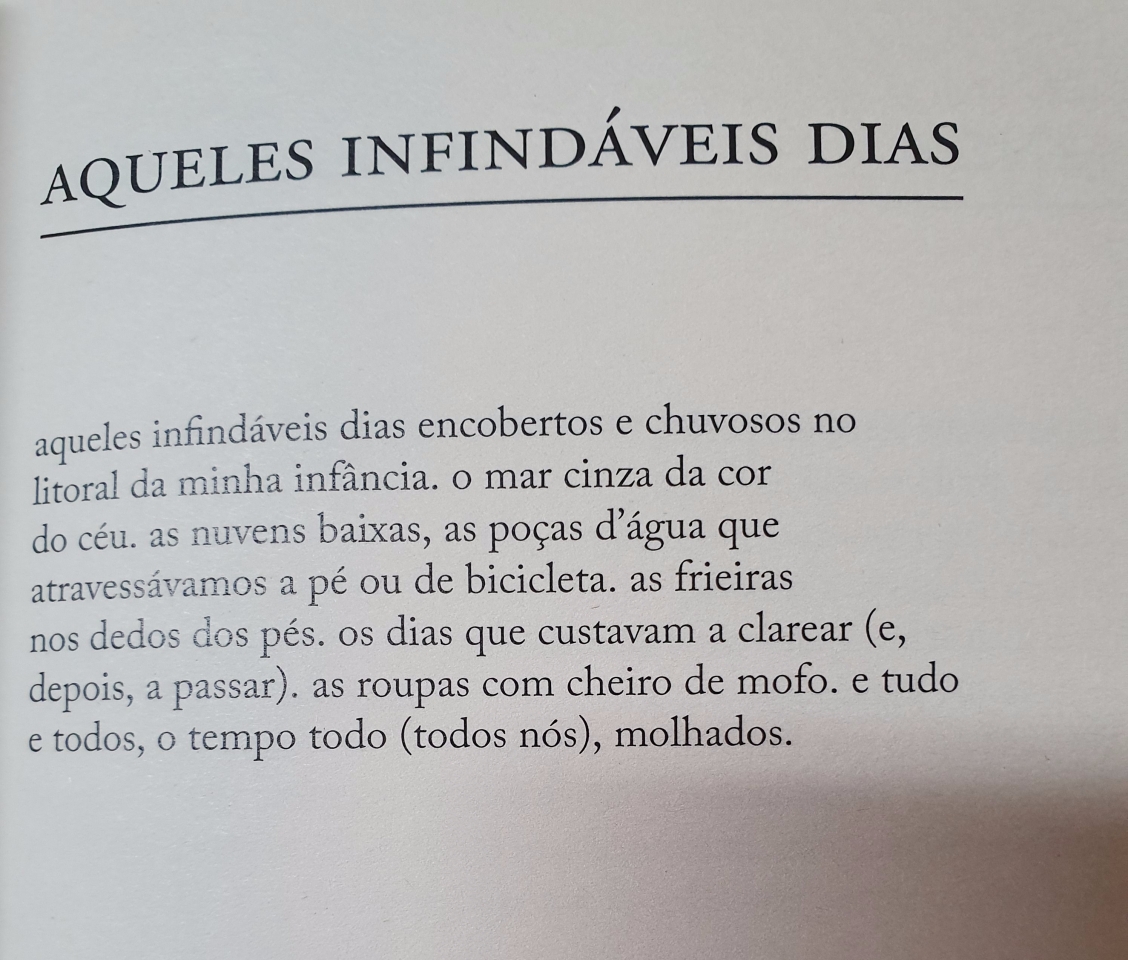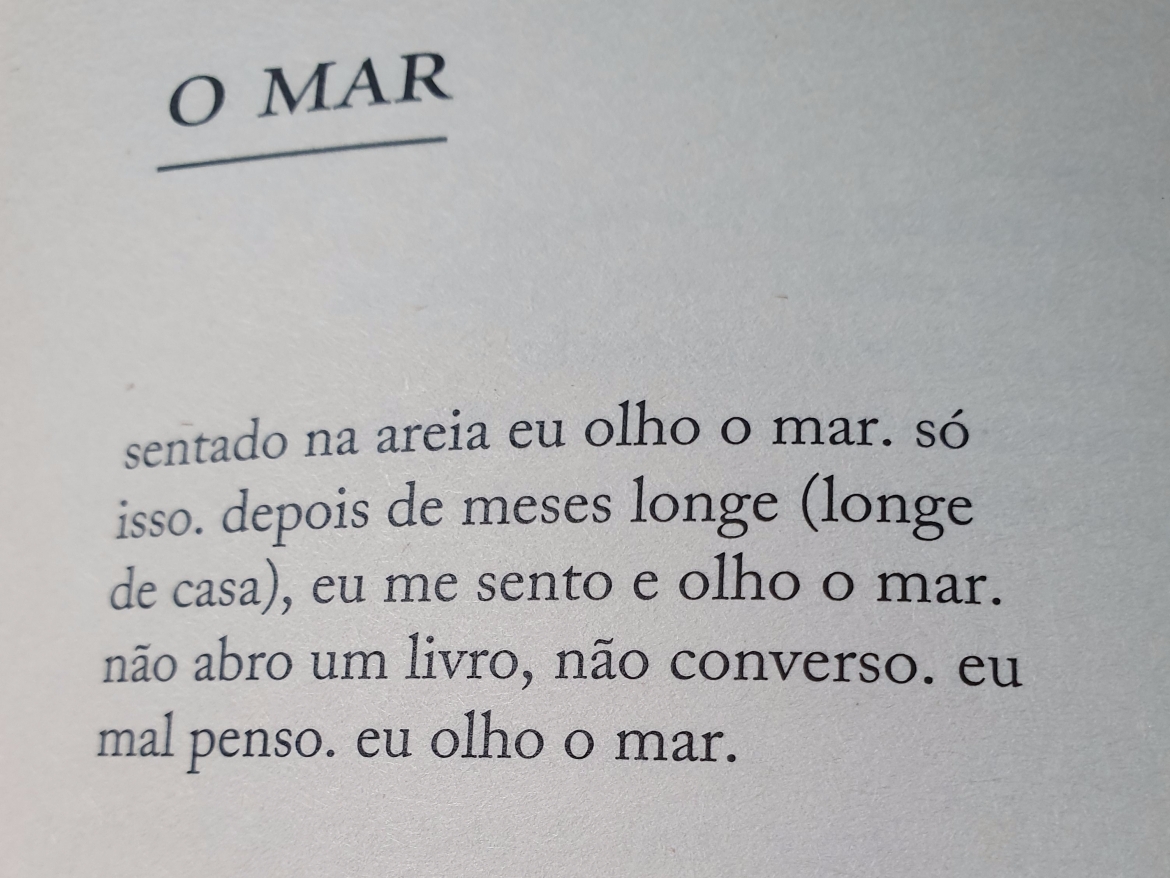Sou fã da literatura alemã, de Thomas Mann a Ingo Schulze e Günter Grass, Peter Handke, e tudo o mais. E não conhecia Daniel Kehlmann, comprei por acaso Fama: um romance em nove histórias, publicado pela Companhia das Letras recentemente. O livro é fino, 159 páginas. Estou impressionada com o estilo seco que mostra as cenas com realismo e permitindo, ao mesmo tempo, a fantasia. As nove histórias se entrelaçam, parece, mas só li as três primeiras: quero terminar logo. Li na orelha do livro que Daniel Kehlmann nasceu em 75 e a Companhia das Letras já publicou, dele, A medida do mundo, que vou comprar amanhã. Há uns vídeos dele na internet, ele tem energia, fala com força. Aliás, falando em vídeos de escritores falando sobre literatura, etc, vale ver os de Alan Pauls na internet. Ele não é só handsome, mas sério, compenetrado, analítico. Procurando na internet, encontrei entrevista dele em um programa jornalístico alemão, onde está link, também, para Günter Grass. Quem quiser ouvir alemão e espanhol em mesmo espaço e tempo, dito e traduzido, é só acessar: http://video.zeit.de/video/627200367001.
Bom, parei de escrever e voltei aqui, logo confessando que deixei o livro do Kehlmann. Comecei super bem intencionada, mas em uma das histórias, sobre a senhora doente que segue para a Suíça para morrer, fiquei confusa e quis parar. Tem uma técnica interessante na história, o escritor e narrador acaba tendo uma voz como responsável pelos acontecimentos, ele aparece do fundo do palco, abre a cortina e fala com a personagem; ela fala com ele, é o criador, afinal. Isso é divertido. Mas aí o rumo da trama muda e tudo fica um pouco desinteressante e eu parei de ler. Não gosto de parar de ler livros na metade, mas se não aguento continuar eu paro, eu leio porque gosto e não por obrigação. Li os três livros do Stieg Larsson da série Millennium, mas no terceiro pulei um monte de páginas e fui para o final. Fiquei sem paciência e quis ver como terminava. Achei que valeu, gostei muito dos livros, mas o terceiro é um pouco enrolado. Mas sobre o Kehlmann, sou uma leitora que se entedia com facilidade, não se influencie, o escritor é muito bom e o livro só tem 159 páginas.